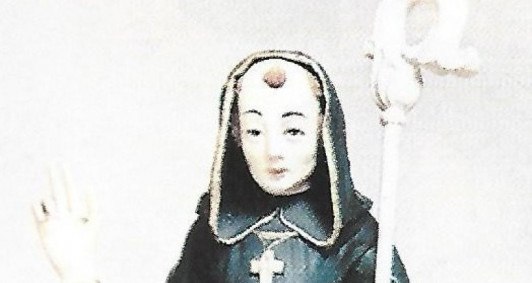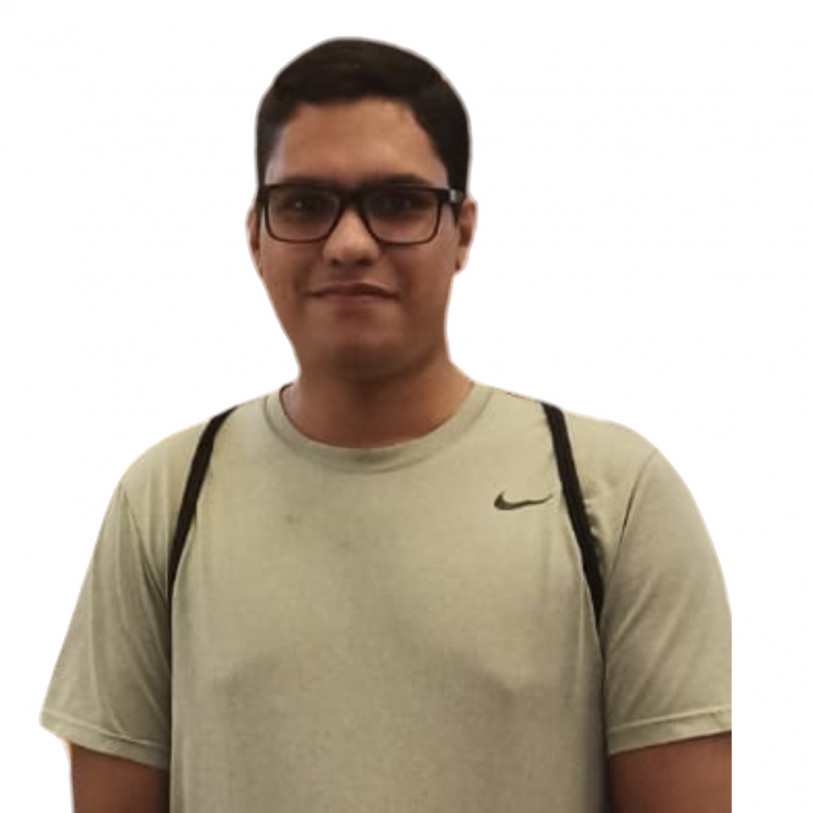*Arthur Soffiati
Explico novamente trabalhar com uma área que presumo apresentar unidade natural e cultural. Denomino-a de ecorregião de São Tomé. Ela engloba o Norte-Noroeste Fluminense, o sul do Espírito Santo e parte da Zona da Mata Mineira. Além dos povos nativos que a habitavam, dos quais ainda restam remanescentes, dos portugueses que se transformaram em brasileiros, de africanos, de libaneses, judeus, italianos e franceses, estabeleceram-se nessa região alguns japoneses e chineses. Lendo o livro “A China no Brasil”, de José Roberto Teixeira Leite (Campinas: Unicamp, 1999), encontrei uma imagem escultórica de Santo Amaro e outra de São Bento com fortes traços chineses. A de Santo Amaro foi esculpida por frei Agostinho da Piedade, no século XVII. Era muito comum, no período colonial, a circulação cultural entre Portugal, Brasil, Goa, Macau e Timor, todos integrantes do império colonial português. Lisboa era a capital desse império.
O livro lista uma série de influências chinesas no Brasil, como a submissão da mulher ao marido, o uso de unhas compridas pelas mulheres e mesmo pelos homens, como sinal de que a classe dominante não executava trabalhos manuais, a carícia do cheiro, o arroto depois das refeições, as muitas reverências, o uso de palanquins e cadeirinhas, os fogos de artifício, os leques e a atração dos homens por pés femininos pequenos. Menciono apenas alguns traços culturais.

O autor atribui o fetiche por pés aos pés-de-lótus das mulheres chinesas, uma deformação lenta produzida pela quebra de quatro dedos, curvando-os para baixo e ligando-os às solas por ataduras. Apenas o dedo grande não era mutilado. O processo começava já na infância, quando os ossos ainda são moles. Adultas, as mulheres ficavam com os pés tão deformados e reduzidos que não conseguiam caminhar direito. Mas só a aristocracia praticava essa mutilação. As mulheres do povo precisavam trabalhar e andar. Tratava-se de um padrão de beleza na China pré-ocidental. Quando a deformação não era iniciada na infância, as adolescentes pediam aos pais ou maridos para praticá-la. O costume entrou no século XX. Hoje, não é mais permitido.
O autor do livro se vale muito da prosa e da poesia românticas para demonstrar a existência desse fetiche entre os homens do Brasil. O livro que melhor o ilustra é “A pata da gazela”, de José de Alencar. Desconfio que as unhas compridas e a atração por pés pequenos não tenham origem chinesa, embora existam alguns registros vindos dos séculos XVIII e XIX. No Brasil, eles eram admirados sem a deformação praticada na China e se restringiram ao romantismo, que criou um modelo de mulher. Já no século XVI, Frei Gaspar da Cruz, um dos primeiros ocidentais a visitar a China, escreve: “Desde meninas lhe apertam muito os pés com panos para que lhe fiquem os pés muito pequenos, e fazem-no porque têm os chinas por mais gentis mulheres as que têm os narizes e os pés pequenos.” (“Tractado das cousas da China e de Ormuz”. Barcelos: Portucalense, 1937). Em 1888, o português Wenceslau de Moraes comentou: “... aquelas mulheres de pés pequenos, escravas de uma moda cruel, que data de mil anos, afadigadas, miseráveis, movendo-se à custa de dores pungentes para ganharem o escasso sustento...” (“Traços do Extremo Oriente”. São Paulo: Sésamo, 2021). No primeiro autor, o tom é de estranhamento. No segundo, a condenação é explícita. Os brasileiros abominavam a prática do pé-de-lótus na China, seja pela crueldade, seja pelo resultado estético. Eles admiravam pés femininos de mulheres ricas, que usavam sapatos apertados. Impedia-se o crescimento dos pés, embora não tanto. Viajantes estrangeiros notaram essa prática. Difícil sustentar que este traço veio da China para o Brasil.
Tanto o autor do livro como Luís da Câmara Cascudo apontam o cheiro, carícia ainda muito praticada no Nordeste do Brasil, como herança chinesa. Cascudo escreve: “... dois povos empregam o cheiro, a aspiração, como uma meiguice: o esquimó, cheirando a moça e vice-versa, e o chinês. Não traria o português dos esquimós. Lógico que o fizesse dos chineses, povo muito seu conhecido e frequentado, desde o século XVI.” (“Superstições e costumes”. Rio de Janeiro: Antunes, 1958). A origem
chinesa do costume é sustentável. Arrotar depois das refeições seria outro traço chinês na cultura brasileira. Mas é discutível. No período colonial, significava educação. Queria dizer que o comensal gostou da comida. Talvez se trate de convergência cultural. Teixeira Leite aponta ainda o hábito de reverências, o uso de cadeirinhas, o uso de leques e de fogos de artifício, muito comuns em festejos. São afirmações
também sustentáveis, tendo em vista a grande circulação de bens entre China, Índia e
Brasil. Navios portugueses provenientes do oriente paravam em Salvador para abastecimento e para venda legal ou contrabandeada de bens materiais. Nada mais natural que pessoas ricas adquirissem seda, porcelana, móveis, azulejos etc. Esses bens são mais disseminados que a influência nitidamente chinesa na igreja Nossa Senhora do Ó, em Sabará, MG, mencionada por Teixeira Leite e pelo historiador
Charles Boxer (“A idade do ouro do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1963). Motivos chineses dominaram a azulejaria luso-brasileira durante o século XVIII.O exemplo mais notório é o de Salvador (VALLADARES, José e MAIA, Pedro Moacir. Azulejos: Reitoria da Universidade Federal da Bahia. Salvador: UFBA, 2003).
Parece ser diminuta a marca da imigração chinesa na ecorregião de São Tomé. José Roberto Teixeira Leite recorre aos quatro volumes do “Registro dos estrangeiros”, conservado no Arquivo Nacional. No volume 2 (1808-1822), consta o registro de José Felipe Ferreira, nome cristão de um chinês que obteve licença para mascatear em Macaé em 1827. Também Joaquim Francisco de Paula (1838), Antonio
Salmon (1838) e José Jorge da Costa, todos chineses, foram para Macaé com nomes que não combinavam com seus tipos físicos. No livro “Os chins do Tetartos”, de Henrique Carlos Ribeiro Lisboa (Rio de Janeiro: Fundação Alexandre de Gusmão, 2018), há uma referência clara ao norte-noroeste fluminense. O autor nasceu no Rio de Janeiro e serviu como diplomata na China. Em 1888, publicou o “A China e os chins”, do qual “Os chins do Tetartos” (de 1894) é continuação. Tetartos é o nome de
um vapor alemão que transportou 475 imigrantes chineses de Hong Kong para o Brasil em 1893. Chineses já vinham imigrando para o Brasil desde a abertura dos portos, em 1808. Mas, com o Tetartos, o número de chineses causou muita polêmica entre os defensores e os críticos da entrada de “amarelos enfermiços” de uma cultura muito diferente da ocidental.
O livro reúne o debate sobre a entrada de chineses em 1893. A escravização de negros foi substituída no Brasil pelo tráfico atlântico ilegal e pelo trabalho livre do imigrante. Os chineses também se integram nesse contingente imigrante. Na Gazeta de Notícias de 9 de março de 1894, Pedro Cunha, fazendeiro no Rio de Janeiro, pede a palavra para Amelia Gomes de Azevedo, que, com sua mãe, administrava a fazenda Monte Himalaia, no noroeste fluminense. Ela defendia a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre e incluía chineses entre esses trabalhadores. Ela empregou 21 chineses em sua fazenda, destacando sua capacidade de trabalho: “Era opinião quase geralmente aceita que o chim era fraco e que eram precisos dez para um nacional. Entretanto, a viagem que fizeram quase sem se alimentarem, caminhando sobrecarregados de peso e chegarem, famintos, ao termo ne sua jornada, porém bem-
dispostos, é prova que não são de organismo depauperado como pretendiam.” E completa: “Trabalham durante 10 horas, conforme são obrigados pelo contrato. São em geral joviais e sociáveis, mostrando-se sempre gratos a qualquer equidade que se faça; esforçam-se por agradar e mostram ter certa afeição a seus superiores. Com a brandura e o jeito consegue-se tudo deles, o que já não acontece com a aspereza ou a violência, como já temos notado por diversas vezes.”
Não se pode afirmar que Amelia Gomes de Azevedo tivesse orientação extremamente progressista, mas ela era uma fazendeira intelectual. Estudou francês, língua em que escrevia fluentemente. Escreveu “Mercedes”, o único romance do romantismo na região. Talvez seu sentimento não represente o da maioria dos rudes fazendeiros da província e estado do Rio de Janeiro.
Mas é de se perguntar que fim tiveram esses chineses que vieram trabalhar na região. No século XX, alguns se instalaram em Campos, abrindo pastelarias e lojas de variedades. Com o advento do porto do Açu, mais uma leva chegou a Campos, inclusive instalando cursos de mandarim. Mas a presença chinesa é restrita na região. Consta que um migrante chinês levou um panda para Itapemirim, onde abriu uma loja, no século XIX.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
BLOGS - MAIS LIDAS
A necropsia aconteceu na manhã desta terça-feira; de acordo com o laudo prévio do IML, a morte foi por enforcamento
Decisão é referente à ação do MPRJ para debelar o suposto estado de abandono do patrimônio histórico
De acordo com o SindhNorte, o atraso dos repasses se acumularia desde 2016; Secretaria de Saúde diz que não há comprovações de dívida da atual gestão
A medida foi tomada após o acidente ocorrido na Plataforma PCH-1, em conformidade com a legislação vigente
Festa foi realizada nesse sábado no Sítio DuJuca, em Guaxindiba, para celebrar os 47 anos da ex-prefeita de SFI